Falar d’O Congresso,
o último filme do israelita Ari Folman, não é fácil. Primeiro, porque se trata
de uma obra fora do vulgar, não tanto pela forma, mas seguramente pelo
conteúdo. A história anda à volta de Robin Wright interpretando-se a si mesma -
ela é a fantástica parte feminina da dupla protagonista de House of Cards. Uma atriz em fim de carreira e a viver da pouca
moeda de troca que sucessos passados lhe trouxeram (Forrest Gump; The Princess Bride). Um estúdio estado-unidense de
cinema propõe-lhe algo inovador: digitalizar tudo o que lhe diz respeito, não
só o físico mas também a mente, as lágrimas, os sentimentos, para explorar sem
estar dependente da arbitrariedade da escolha e feitio do ator. Vinte anos após
esta digitalização, portanto num futuro não muito longínquo, a personalidade
cinematográfica Robin Wright é um sucesso e a real é convidada para o titular
congresso. Neste é revelado um produto ainda mais inovador. O cinema irá morrer
e dar lugar a uma fragrância que, quando inalada, permite que o recetor seja,
por breves instantes, o seu ator ou personagem favorito.
E estas são as
partes lineares do filme.
O argumento de
ficção científica muito deve ao mesmo molde de onde foi concebido o Matrix, antevendo um futuro distópico
com um pé firmemente baseado no presente. Não deixa de ser um acentuado
comentário ao atual estado do microcosmo do estúdio e industria cinematográfica
americana, com os seus franchises, onde os atores e realizadores são meros
instrumentos para um fim pré-estabelecido numa folha Excel (e contra mim falo, já que os filmes de super-heróis caem
exatamente neste paradigma). Por outro lado, e de forma mais lata, estica a sua
análise para uma alucinação coletiva que, ao contrário do futuro do Matrix, é autoimposta – como se pode ver
numa das codas deste Congresso, quando Wright regressa da dita reunião. O
afastamento face à realidade e o refúgio na paralela e idealizada não deixa de
tocar fundo no zeitgeist deste início
de século, com as personalidades que criamos no Facebook, nos Blogs e no Instagram. Que não são mais que a
exponenciação das personalidades que deles fazem uso - apresso-me a dizer antes
que me chamem de velho do Restelo.
Formalmente, o
realizador escolhe sequências de personagens de carne e osso com outras de animação,
prosseguindo, nesta última opção, o trabalho que já o tinha dado a conhecer, Valsa de Bashir. Um filme estranhamente
belo.

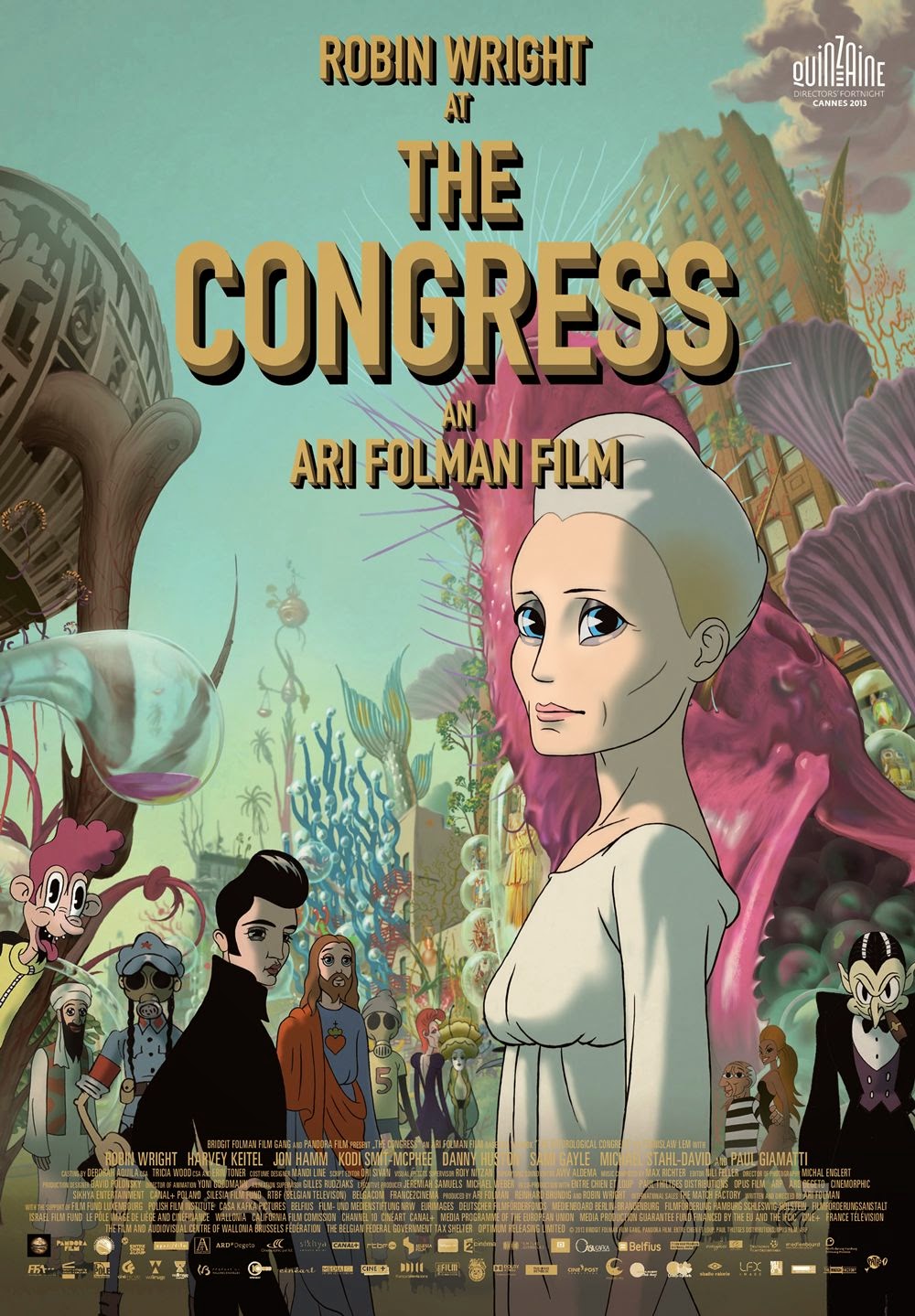
Sem comentários:
Enviar um comentário